Alisson Ramos de Souza
Tenho em vista o debate, realizado em
1971, entre Michel Foucault e o linguista Noam Chomsky (disponível aqui: https://www.youtube.com/watch?v=3wfNl2L0Gf8) para a colocação da seguinte questão: se não
existe tal coisa chamada ‘natureza humana’, então, qual é o propósito de uma
militância política? Essa questão é, de certo modo, uma reformulação e
desdobramento daquela que Foucault, provocativamente, dirige a Chomsky: “então
é em nome de uma justiça mais pura que você critica o funcionamento da
justiça?” Chomsky acredita(va) numa natureza humana que era impedida de se
realizar, de concretizar seu potencial criativo, ter reconhecida sua dignidade,
liberdade etc., devido a constrangimentos advindos de formas econômicas,
políticas e sociais repressivas. Tais formas seriam injustas, pois, apesar do
Estado – em seus mecanismos legais – apresentá-las como sendo justas, haveria
um descompasso entre a justiça atual e a ‘justiça ideal, entre o ser e o dever-ser.
Existiria,
portanto, uma inadequação entre a essência do homem – que em seu verdadeiro eu é bom, justo, criativo etc. –, e o
modo como ele vive, sobretudo, na atual formação social, a capitalista; essa inadequação,
no jargão marxista, é chamada de ‘alienação’. Aliás, marxistas e sartreanos (e
o próprio Sartre) tenderam a enxergar, com boa dose de má vontade, no livro As palavras e as coisas, publicado em
1966, que, entre as várias noções e questões abordadas, traz o tema da ‘morte
do homem’, um manifesto contra o humanismo e a retirada do homem de seu posto
de sujeito histórico. Assim, para seus detratores, o anúncio da morte do homem
inviabilizaria qualquer ação política, uma vez que a inexistência de uma
essência humana tornava sem sentido uma transformação da sociedade. Em certa
medida, creio que tenha sido essa a intenção do filósofo francês.
Ora,
o homem, para Foucault, não é um ser incompleto, visto que ele nem sequer
existe, ou, pelo menos, nem sempre existiu. A história que ele julga ser sua
lhe é anterior, e sua existência concreta é atravessada pelas positividades das
ciências humanas que o criam: biologia, economia e filologia. Os limites de sua
existência são, assim, determinados por uma episteme
bem específica, surgida em meados do séc. XIX. E dada a finitude que funda seu
conhecimento e sua existência, ele está condenado a morrer. Isso muda
radicalmente o modo de se fazer política, ou melhor, de militar politicamente,
uma vez que não faz mais sentido lutar por aquilo que perecerá. Se me é
permitido uma metáfora, seria como medicar um paciente em estado terminal. Dessa
feita, o problema passa a ser inteiramente outro: não mais mudar uma sociedade injusta
que desfigura o homem; pelo contrário, trata-se agora de apagar seu rosto, isto
é, de superar sua forma.
Entretanto,
Foucault reconhece que o Estado moderno – que se estabelece com o capitalismo –
age de modo repressivo, mas, em sua concepção, não existe uma classe exclusiva
que detém o poder, exercendo-o através do Estado, e este não pode ser definido
como uma entidade centralizada. O poder percorre todo o tecido social, não
sendo portanto um privilégio adquirido ou conservado da
classe dominante. Ele é menos uma
propriedade do que uma estratégia, um exercício, e seus
efeitos não são atribuíveis a uma apropriação, mas a disposições, manobras, táticas,
técnicas, funcionamentos; ele não está,
rigorosamente falando, localizado no aparelho de Estado, pois o
próprio Estado aparece como efeito de conjunto ou resultante de engrenagens e
de focos que se situam num nível bem diferente e que constituem por sua conta
uma ‘microfísica do poder’; e nada tem a ver com superestrutura; não se inscreve
na ordem de uma causalidade molar, sua ‘natureza’ é um muito mais molecular,
microscópica. E, finalmente, não pode
ser abolido, visto que o poder não existe, pelo menos não a despeito de
práticas e relações.
A
colocação inicial da qual não existe uma natureza humana nos leva a um impasse:
se o homem não existe – essencialmente falando –, mas, ao mesmo tempo, ele é
reprimido pelas instituições que o atravessa, então, por que ou pelo que lutar?
Na verdade, não existe uma contradição nisso. Sua luta deve ser empreendida
contra as instituições que fabricam e modelam sua subjetividade, que normatizam
sua existência, instâncias de saber-poder. Se o homem deve resistir, insurgindo-se
contra o atual sistema, não é para readequar sua essência à sua existência,
mas, creio eu, para tornar essa última mais tolerável. Como lembra Foucault,
onde há poder, há também resistência.
As
revoluções são tidas como os acontecimentos políticos por excelência, contudo, que
tipo de revolução seria desejada? Certamente, não uma que tivesse um programa,
que se inscrevesse na ordem da causalidade, com uma imagem prévia do futuro ou
do que é ser homem. As revoluções operam um corte, seccionam
a imagem do atual, provocando uma ruptura, que nada tem a ver com continuidade
histórica, com tomada de consciência, ideologia etc. As grandes utopias
emancipatórias jamais representaram um grande risco para o status quo, visto que, apesar de se colocarem como um possível, são
sempre uma alter-nativa já presente, isto é, ‘o Outro’ do atual, são sempre um dèjà-là.
Para
concluir, tomando por empréstimo o termo de seus contemporâneos, Deleuze e
Guattari, o que seria desejado seria uma microrrevolução, uma revolução
molecular, sem sujeitos. Trata-se assim não mais de re-conhecer os direitos –
como se eles já existissem a priori
–, mas de inventá-los. Não mais utopias, mas heterotopias. Da soteriologia
cristã ao rousseaunismo marxista, o homem é sempre visto como alguém que
precisa ser salvo, seja do pecado original ou do jugo do capital, acreditando
que com a superação das formas que o sujeitam – o mundo terreno ou o modo de
produção capitalista –, ele finalmente estaria em concordância consigo mesmo. O
que quis advogar, aqui, tendo o pensamento de Foucault como referência, é que o
homem não precisa ser salvo, exceto da tentação de afirmar aquilo que ele não
é.
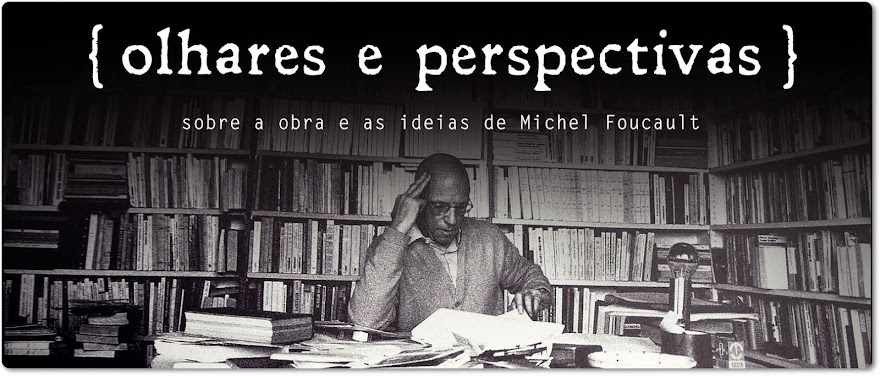
O texto ficou excelente! Queria apenas comentar uma questão: se para Foucault a questão do poder não é privilegio da classe dominante, como pensava Marx, mas sim disposições, técnicas, manobras que resultam na microfisica do poder. O que parece é que para Marx existiria um problema a ser resolvido na relação entre proprietários detentores do poder e operários desprovidos dele. No entanto, parece que esse problema não incomoda Foucault. O filósofo Francês se preocupa apenas em explicar minuciosamente o mecanismo dessa relação sob uma perspectiva neutra. Ou seja, o que se percebe é que para Foucault não existe ou pelo menos não é de seu interesse a contradição causada por essa relação de poder no decorrer da história, mas antes o modo como ela funciona. Não se trata de explicar o que é, mas como é.
ResponderExcluir