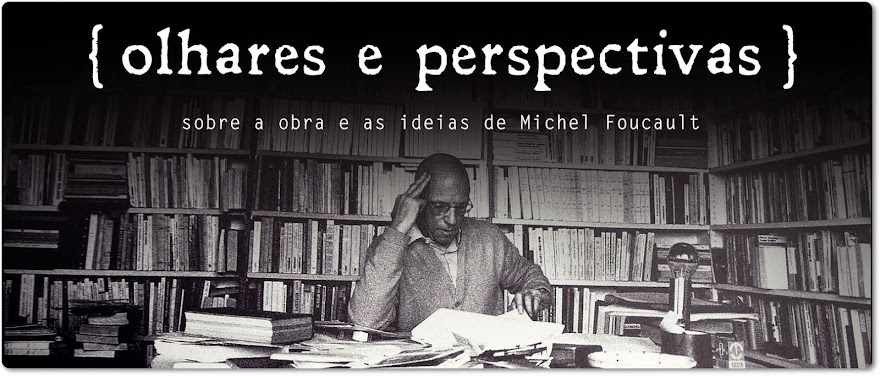Lorena de Paula Balbino
Foucault
afirma em entrevista que a política situa-se, desde o século XIX, em relação a
revolução. Na ocasião dessa afirmação o filósofo fazia referência
especificamente a Revolução Francesa. Esse evento em especifico tornou-se no
interior da história política algo que Kant identificou como signo do
progresso. O retorno da revolução torna-se, a partir desse evento, um problema
político no que se refere a seu caráter desejável. Diante disso, Foucault
constata o seguinte: “Mas acho que fazer política sem ser um político é tentar
saber com a maior honestidade possível se a revolução é desejável. É explorar
este terrível terreno movediço onde a política pode se enterrar” (FOUCAULT,
2008, p. 240).
Mas
o que significa desejar a revolução e preocupar-se com o seu retorno? Primeiramente
pensar a revolução em termos de seu retorno significa ter uma concepção específica
de tempo. Essa concepção implica entender que a revolução imprime uma ruptura
no tempo marcando-o permanentemente e abrindo o caminho em direção ao
progresso, certamente então uma concepção teleológica do tempo. Foucault, como
diagnosticador do presente, entendia a tarefa filosófica como crítica da
atualidade. Seu pensamento rompeu com a noção teleológica de tempo ao
empreender a sua “ontologia do presente” e ao recusar-se a ser cúmplice da
figura do intelectual representante da consciência universal do povo. A esse respeito afirma Foucault: “Sonho com o
intelectual destruidor das evidências e das universalidades, que localiza e
indica nas inércias e coações do presente os pontos fracos, as brechas, as
linhas de força; que sem cessar se desloca, não sabe exatamente onde estará ou
o que pensará amanhã, por estar muito atento ao presente” (FOUCAULT, 2008, p.
242).
A
concepção de história do filósofo francês e a maneira como escreve, por
exemplo, sobre o cuidado ético nos gregos, a disciplina, a loucura e seu enclausuramento,
se inscrevem na atitude crítica de Foucault ao ver a história como
acontecimento em contraposição a noção de evento. Além da ruptura com a noção
teleológica de tempo e a concepção marxista de história o trabalho de Foucault
implica pensar as relações entre verdade, saber e poder tomando como horizonte
de reflexão a crítica do que somos.
Desejar
a revolução implica estar de acordo com determinadas estratégias políticas
referentes a concepção de história, poder e tempo que estão implicadas na noção
de revolução. Desse modo, parece-me que a noção de revolução supõe uma
vanguarda intelectual que tem o papel de revelar verdades e guiar a consciência
do povo. Essa ideia do papel do intelectual e sua posição histórica, como
personalidade individual da universalidade obscura que era o proletariado, foram
questionadas pelo filósofo em diversas de suas entrevistas (FOUCAULT, 2008, p. 8).
Para Foucault não há mais uma vanguarda intelectual que teria por objetivo
atuar na conscientização daqueles que lutam dentro de aparelhos como os
sindicatos, os partidos, os movimentos sociais, etc. Foucault diagnostica que
há muito o papel do intelectual mudou graças a novas relações entre teoria e
prática e que hoje o intelectual atua em setores determinados da sociedade.
A
forte imagem do intelectual deriva da crença na necessidade de
representação e que tem suas raízes nas lutas contra o poder e na
indispensabilidade em conhecer todas as suas formas de atuação. É possível que
a forma como o marxismo, por exemplo, compreende o poder seja insuficiente.
Foucault aponta que não só a análise sobre os aparelhos de estado não esvaziam
as formas de exercício do poder como a ideia de que o poder se detém (e não se
exerce) por algo totalizante como o estado pressupõe uma luta global. Em sua
análise Foucault procurou descentralizar o problema do poder e passar para o
exterior do Estado a fim de encontrar as tecnologias de poder, como demonstra
em seu curso “segurança, território, população”, e procurar ver através dessas
tecnologias como se constituía “campos de verdade com objetos de saber”, é
assim que ele chega, por exemplo, a noção de governamentalidade (FOUCAULT, 2008a,
p. 157-158).
Ao
descentralizar o problema do poder Foucault nos mostra como a noção de Estado
foi supervalorizada e reduzida a certas funções de desenvolvimento e relações
de produção que o fizeram tornar-se o principal alvo de ataque ao poder e um
espaço a ser tomado. No entanto, alerta-nos Foucault, o Estado: “não teve essa
unidade, essa individualidade, essa funcionalidade rigorosa e direi até essa
importância. Afinal de contas, o Estado não é mais que uma realidade compósita
e uma abstração mistificada, cuja importância é muito menor do que se
acredita”. (FOUCAULT, 2008, p. 292). Descentralizar o poder e não tomar o
Estado como alvo único e principal a ser questionado requer pensar nas
estratégias de lutas contra o poder. Foucault observa que as lutas
desenvolvem-se contra formas particulares de poder em que ao se localizar um
foco, dar nome a ele e dizer quem o exerce constitui uma inversão de poder. É
por isso que: “Se discursos como, por exemplo, os dos detentos ou dos médicos
de prisões são lutas, é porque eles confiscam, ao menos por um momento, o poder
de falar da prisão, atualmente monopolizado pela administração e seus compadres
reformadores” (FOUCAULT, 2008, p. 76).
É
assim, que seu trabalho no G.I.P. (Grupo de Informação sobre as Prisões) foi um
esforço para demonstrar a necessidade de se falar por si mesmo e demonstrar o
“erro” da representação. É nesse sentido que Deleuze afirma que Foucault nos
ensinou sobre “a indignidade de falar pelos outros”. E é nesse contexto que o
filósofo francês afirma em conversa com Deleuze do ano de 1972: “Ora, o que os
intelectuais descobriram recentemente é que as massas não necessitam deles para
saber, elas sabem perfeitamente, claramente, muito melhor do que eles, e elas o
dizem muito bem. Mas existe um sistema de poder que barra, proíbe, invalida
esse discurso e esse saber”. (FOUCAULT, 2008,p.71)
Se
há, portanto, um sistema de poder que barra e invalida determinados discursos
qual é então o lugar deles? Certamente o lugar de desvio, o que Foucault, em
contraposição a noção de utopia, chama de heterotopia. A heterotopia é o lugar
dos desviantes da norma, daqueles que estão em crise, é, portanto, um
contraposicionamento no interior da sociedade. A noção de heterotopia assume
formas variadas que não corresponde a um aspecto universal e que talvez não se
esgote em um número limitado, ela também pode desaparecer e reinventar-se
através do tempo. A noção de heterotopia vai contra a transcendentalidade da
utopia e evidencia a impossibilidade da universalidade como espaço último da
sociedade, a universalidade é a utopia ocidental que pretende um posicionamento
sem lugar real (PASSETI, 2003, p.46).
Acreditamos
que a ideia de revolução pressupõe uma concepção de tempo, de história e de
poder que desejam um projeto assentado na ideia de uma libertação total.
Foucault tornou explícito em seu trabalho a impossibilidade de uma libertação
total uma vez que não há um poder único que estrutura e perpassa toda a vida e
sim diferentes formas de racionalidade política, diferentes dispositivos de
poder sobre os quais é necessário criar especificas formas de resistência. É
desse modo, que Foucault demonstra que a noção de revolução não serve mais ao
pensamento político-filosófico como instrumento para pensar o presente.
Referências:
CANDIOTTO, C. Política, revolução e
insurreição em Michel Foucault. Revista de Filosofia: Aurora), v. 25 , 2013.
FOUCAULT, M. Outros Espaços. In: Motta,
Manoel Barros da. (org). Michel Foucault:
Estética, literatura e pintura, música e cinema. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2006. (Ditos e Escritos).
______________.
Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2008.
______________.
Segurança, Território, População. São Paulo: Martins Fontes, 2008a.
______________. O
governo de si e dos outros. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.
PASSETTI, E. Vivendo e
revirando-se: heterotopias libertárias na sociedade de controle. Verve (PUCSP),
São Paulo, v. 4, 2003.